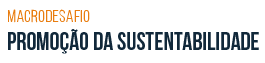Os impactos socioambientais nas migrações foram analisados na palestra inaugural da segunda parte do Seminário sobre Direitos Humanos: Racismo ambiental, migrações e ações coletivas, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizado na sexta-feira (22/9). Conduzida pela coordenadora do Comitê Executivo do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, desembargadora Carmen Gonzalez, a palestra “Fluxos migratórios provocados por crises ambientais” ficou a cargo da coordenadora de Projetos da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Débora Castiglione.
A representante da OIM explicou que Agência entende o conceito de migrante de forma ampla. “Em geral, entendemos como uma pessoa que se desloca de sua residência, ou seja, vale para aqueles que se movimentam também dentro do território nacional, não somente internacionalmente, como a maioria das pessoas compreende”, disse. Ela explicou que, no contexto da mobilidade humana ambiental e climática, quatro conceitos são trabalhados: migração, deslocamento por desastre, imobilidade e realocação planejada.
Dentro desse contexto, a migração é vista como um movimento mais voluntário que o deslocamento, que é um movimento forçado, quando alguém é obrigado a deixar seu local de origem ou residência habitual para evitar ser afetado por um perigo natural imediato.
De acordo com dados trazidos por Castiglione, em 2022, houve no Brasil 708 mil deslocamentos internos por conta de desastres naturais. Segundo a OIM, a Região Nordeste do Brasil e a Amazônia são as zonas mais sensíveis ao deslocamento no mundo, conforme projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (2022).
Castiglione destaca alguns pontos, como o fato de povos indígenas, mulheres e crianças sofrerem, de maneira desproporcional, os impactos da mudança climática na mobilidade humana. Isso porque os efeitos nocivos da mudança no clima interagem com fatores pré-existentes da desigualdade nos países da América do Sul.
A coordenadora de Projetos da OIM ressaltou ainda que os países da região são considerados altamente vulneráveis a quaisquer ameaças naturais, degradação ambiental e efeitos adversos da mudança climática. Mulheres e meninas sofrem impactos mais significativos por consequência dos papéis de gênero, desigualdade no acesso à propriedade da terra, risco de violência e exploração no deslocamento. A degradação ambiental, em interação com outros fatores, segundo Castiglione, pode levar à migração e ao deslocamento das comunidades afetadas, o que, feito de forma desordenada, pode prejudicar novamente o meio ambiente.
Racismo

Na construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, as pessoas mais impactadas pela obra foram os povos indígenas e comunidades ribeirinhas da bacia do Rio Xingu. Já na construção da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, comunidades quilombolas, que correspondem a 80% da população local, acabaram removidas dos territórios de cultivo para subsistência. Os dois casos, que são acompanhados no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH), são emblemáticos do racismo ambiental, outro tema debatido no seminário.
O termo, cunhado em 1981 pelo líder afro-americano de direitos civis Benjamin Franklin Chavis Jr, faz referência às formas desiguais pelas quais etnias vulnerabilizadas são expostas às externalidades negativas e a fenômenos ambientais nocivos como consequência de sua exclusão na tomada de decisão. Atualmente, o conceito é empregado em referência a qualquer política, prática ou diretiva que afete ou gere desvantagens a indivíduos, grupos ou comunidades com base em raça ou cor.
O assunto foi debatido no painel “Racismo ambiental”. De acordo com a pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB) e assessora da Justiça Global Emily Maya Almeida, em Alcântara, por exemplo, até hoje, não há qualquer monitoramento da poluição do ar gerada a partir dos lançamentos de foguetes.
“O racismo é estruturante das violações de direitos humanos. Na agenda da Justiça socioambiental e climática, acompanhamos conflitos importantes no Brasil”, pontuou a pesquisadora, que mencionou, entre outros episódios, o rompimento da barragem do Fundão, que impactou a Bacia do Rio Doce em Minas Gerais e no Espírito Santo. “O perfil da principal população atingida em Bento Rodrigues (MG) era composto, em 85%, de negros”, exemplificou.
A juíza auxiliar da Presidência do CNJ Karen Luíse de Souza ponderou que a magistratura em muitos momentos trata os casos de forma isolada, apesar de fazerem parte de um mesmo fenômeno, que acontece em todo o país. “Onde é que se depositam os resíduos? Onde fica o lixão? Onde passa a rodovia? Com certeza, não vai ser na Faria Lima, não vai ser no Leblon, não vai ser no Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul”, questionou a magistrada, acrescentando que essas condutas acontecem nas regiões em que vivem populações vulnerabilizadas.
A diretora do Perifa Sustentável, Mahryan Sampaio, lembrou que o mesmo fenômeno é visto nas comunidades periféricas, em que, além de deslizamentos, as chuvas alagam casas e impedem as rotinas básicas das famílias. “Não é só a questão do risco de vida. É sobre pensar como pessoas pretas, periféricas, de comunidade, pessoas indígenas, estão efetivamente vivendo, porque o direito a ter direitos humanos, o direito ao bem viver na sociedade deve ser de todos, não apenas reservado para uma esfera específica da população. E isso é fazer democracia também”, considerou.
Coordenador Executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Biko Rodrigues foi o debatedor do painel e ressaltou a importância dessas comunidades para preservação da cultura, do bioma, da biodiversidade, da produção das águas e também para a produção de alimentos.
Ele recordou que o Censo de 2023 demonstrou que moradores desses espaços estão em todo o território nacional. “Hoje nós somos mais de 6 mil comunidades quilombolas. Desse total, não chega a 200 territórios quilombolas titulados desde a constituição de 1988”, lamentou. “Na lentidão em que o Estado brasileiro se encontra em regularizar os territórios quilombolas, vai se demorar mais de 2 mil anos para que todos sejam regularizados”, estimou.
Vítimas

Na sequência, a desembargadora Carmen Gonzalez, coordenou o painel “Vítimas dos Impactos Ambientais”, no qual o vice coordenador geral do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, Ivan Silva, contextualizou os desafios à questão ambiental dentro do espectro político da região.
Também participou do painel a coordenadora do Programa Iguaçu na Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos, Tchenna Fernandes Maso, segundo a qual o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo, sendo 70% desses já banidos internacionalmente.
Um dos mais graves problemas ambientais apontados pela entidade é a pulverização aérea de agrotóxicos, que atinge, inclusive, escolas em comunidades. Tchenna apresentou ainda o resultado de pesquisa realizada em 30 casos de violações de direitos humanos analisados pela organização, que identificou entre as populações atingidas também as de povos originários.
A desembargadora Carmen Gonzalez, auxiliar da Presidência do CNJ, recomendou que o conteúdo apresentado seja formatado e oferecido em curso de capacitação destinado a magistrados e magistradas. O painel contou ainda com a participação, como debatedora, da assessora jurídica da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Cristiane Baré.
Políticas públicas

No último painel do “Seminário sobre Direitos Humanos: racismo ambiental, migrações e ações coletivas”, juristas e especialistas discutiram políticas públicas e ações coletivas ambientais. Representante do Observatório do Clima e da Conectas Direitos Humanos, Gabriel Mantelli trouxe reflexões de como o campo da Justiça climática pode se reposicionar, partindo de uma abordagem dos direitos humanos. Ele destacou que, nos próximos dias, a Conectas lançará o estudo “Impulsionando a ação climática a partir dos Direitos Humanos”, que apresenta oito maneiras para utilizar os mecanismos de Justiça e outros setores da sociedade no combate à crise climática e racismo ambiental. A ideia é, segundo Mantelli, estabelecer uma agenda de trabalho, que tem início com o estabelecimento de uma noção de participação pública e popular e acesso à informação e educação climática.
Na avaliação do representante do Observatório do Clima e Conectas Direitos Humanos, a dinâmica do racismo estrutural no Brasil precisa ser nomeada para que, não apenas as estratégias jurídicas, mas a formulação de políticas públicas possa assegurar o enfrentamento. “As situações de desigualdade estão estruturadas em um componente racial. E isso passa por incluirmos uma análise sócio climática em um licenciamento ambiental”, exemplificou.
Em participação remota, Carlos Milani, do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, destacou que a emergência climática não é apenas uma questão ambiental. “Estamos diante de um problema que é também de ordem energética, de superação progressiva e, absolutamente necessária, de combustão fóssil. Portanto, situado no coração das relações de poder, dos territórios locais até o âmbito planetário”, pontuou.
Na perspectiva do Brasil e de vários outros países periféricos, pensar a Justiça Climática implica relacioná-la ao direito ao desenvolvimento, ressaltou Milani. “Talvez seja menos complexo falar do tema em países que já atingiram um patamar de desenvolvimento elevado. Se não pensarmos dentro dessa lógica, corremos o risco de não produzir equidade e não respeitarmos os direitos humanos”, alertou.
Ao encerrar o seminário, Mariana Galdino, da Coalizão O Clima é de Mudança, enfatizou a importância das ações coletivas para reforçar lutas indentitárias e causas vinculadas aos direitos humanos, como a luta antirracista. “É fundamental pensarmos em rede, uma forma de falarmos das nossas tecnologias ancestrais. A cooperação, a colaboração, tão utilizadas por nossos antepassados”, disse. A Coalizão foi formada em 2022 por organizações da sociedade civil, localizadas principalmente na região metropolitana da capital do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.
Texto: Ana Moura e Mariana Mainenti
Edição: Thaís Cieglinski
Agência CNJ de Notícias